No Dia do Nordestino, o jornalista, pesquisador e escritor potiguar Octávio Santiago estreia artigo exclusivo na Eco Nordeste sobre os estereótipos que continuam sendo reproduzidos
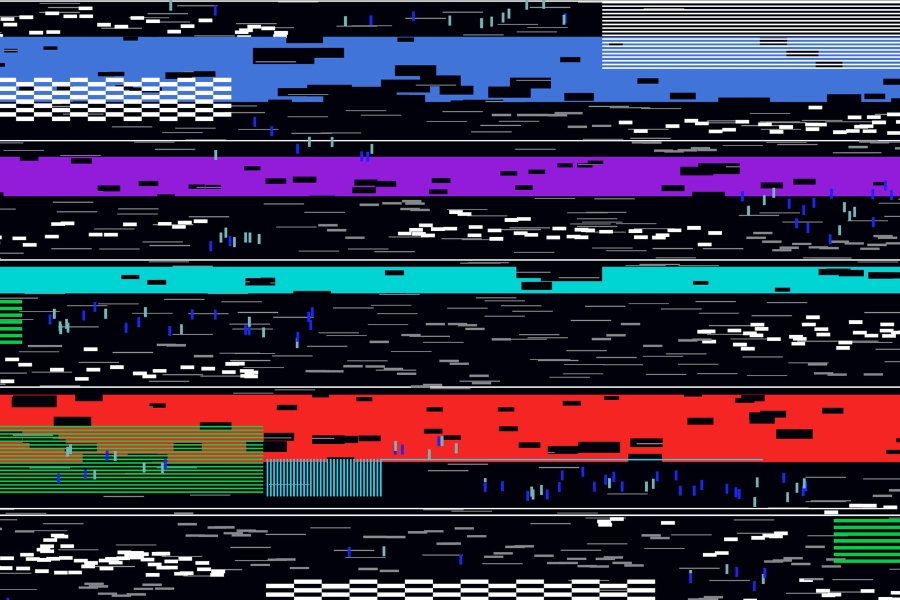
Você já reparou como as novelas adoram “retratar” o nordestino como alguém que mal sabe falar? A figura do sertanejo ingênuo, sofrido e de vocabulário limitado ainda aparece, geração após geração, como se o Nordeste coubesse em meia dúzia de estereótipos. Curioso é que, fora da ficção, os nordestinos lideram aprovações em concursos públicos e tiram as notas mais altas na redação do Enem. A realidade desmente o enredo.
O Nordeste é berço de gigantes letrados como Rachel de Queiroz, Ariano Suassuna, Ruy Barbosa, Gilberto Gil e Kleber Mendonça Filho. Nomes que, em suas áreas, ajudaram e ajudam a formar o saber nacional. Mesmo assim, a ideia de que a região é “atrasada” persiste nos folhetins. E isso não é por acaso: é fruto de uma construção histórica que serve a interesses bem definidos.
Vale lembrar que o Nordeste já foi o centro político e econômico do País, especialmente nos séculos XVII e XVIII, quando o açúcar e o algodão moviam a economia colonial. Durante o século XIX, o cenário se inverteu. Enquanto o “Sul” se firmava como novo eixo de poder, e represava investimentos, o Nordeste enfrentava secas severas e tentava se reconstruir. Nesse contexto, milhares migraram em busca de trabalho. Foi aí que se estabeleceu a narrativa da inferiorização.
Primeiro, como justificativa para negar investimentos públicos. Quando o paraibano Epitácio Pessoa deixou a presidência da República, após um mandato que valorizou sua terra, Artur Bernardes, mineiro, assumiu o poder e promoveu um verdadeiro espólio dos recursos. Restabeleceu a política do Café com Leite e redirecionou empreendimentos para, tente adivinhar, São Paulo e Minas Gerais.
Depois, como forma de exaltar a mão de obra europeia, tida como mais “civilizada” num país ainda prisioneiro do mito da branquitude. O nordestino, mestiço e popular, traçado assim por Euclides da Cunha e pelos eugenistas que o sucederam, tornou-se o “outro” interno do Brasil, aquele contra quem o discurso do progresso precisava se afirmar. O Nordeste e o nordestino, portanto, surgem contrariando interesses, e isso não passou incólume.
Ao reforçar até hoje a ideia de pouca instrução, essa visão sustenta uma estrutura de privilégios e perpetua uma falsa hierarquia entre regiões. O resultado aparece nas telas, nas campanhas publicitárias, na política e até no senso comum: personagens nordestinos seguem sendo o alívio cômico, o coadjuvante, o simplório. A falsa hierarquia regional desemboca, no fim, em algo ainda pior: uma hierarquia entre brasileiros.
Nos papéis criados para “retratar” o Nordeste, quase nunca há cientistas, juristas, engenheiros, médicos ou artistas. Essa ausência não é inocente: é a continuidade simbólica da exclusão material. O Brasil real, diverso e múltiplo, ainda é filtrado pelo olhar de um poder que se consolidou no celebrado eixo Sul-Sudeste. “À margem”, discursivamente, está quem dá sentido ao “centro”.
“Nordeste nunca houve”, já dizia Belchior, e é sobre essa criação que ele cantava nos anos 1970. Criou-se um Nordeste para servir de espelho daquilo que o País queria deixar de ser: pobre, árido e mestiço. Mas essa imagem não dá conta da complexidade de uma região que é, ao mesmo tempo, matriz e motor da cultura brasileira e do desenvolvimento do País.
Nos personagens das novelas e nos discursos oficiais, parece que só cabem os que “não sabem falar”. É como se todos soassem como o “Assum Preto” de Luiz Gonzaga, que “veve sorto, mas num pode avuá”. “Tarvez por ignorança” de quem ainda não conhece o Nordeste real. Ou pela conveniência de quem prefere mantê-lo preso à gaiola dos clichês. Afinal, é mais fácil perpetuar desigualdades quando elas se disfarçam de identidade.
Octávio Santiago é autor de “Só sei que foi assim: a trama do preconceito contra o povo do Nordeste” (Autêntica, 2025).



