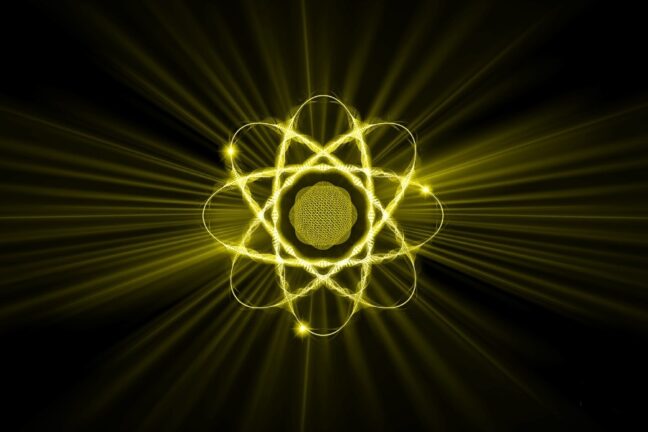Por Isabela dos Santos e Leonardo Maia *
É noite na Muçuca. Um papoco estronda na rua e todas as luzes se apagam. Não é bombinha de festejo junino. Um papagaio topou no fio de alta tensão do poste em frente de casa. Morreu sapecado, com uma corrente presa no pé. Acendo uma vela e diante do altar inicio este escrito. Rezo pela alma do ser bendito que se foi e peço aos ancestrais e à criação divina que me conduzam pelo caminho da sabedoria no fazer deste trabalho.
Trata-se de uma reportagem fruto de uma seleção do Instituto Climainfo sobre Emergência Climática no nordeste brasileiro, com o apoio financeiro do Instrumento de Parceria da União Europeia com o Ministério Federal Alemão para o Meio Ambiente, Conservação da Natureza e Segurança Nuclear (BMU) no contexto da Iniciativa Climática Internacional (IKI). Fomos um entre os 12 selecionados no edital, com a seguinte pauta: “O corpo território e as transformações na comunidade quilombola Muçuca – o que cura e adoece a Terra e o corpo humano a partir da realidade vivida em seu território?“. Digo fomos, porque é uma proposta de autoria compartilhada com Isabela dos Santos.
Convidei Isabela para partilhar esse trabalho comigo no dia da procissão do padroeiro da comunidade, Senhor da Cruz. Ela estava sentada na calçada de casa com a mãe, dona Bela, assistindo o cortejo religioso. Eu saí para fotografar, parei para conversar e fiz o convite. “E aí, topa escrever uma reportagem?”. Apertamos as mãos e assim começamos nossa parceria.

Isabela e dona Bela esperando passar a procissão do Senhor da cruz | Foto: Leonardo Maia
A partir daqui nossas falas e olhares se misturam, nessa escrevivência, como denomina a escritora Brasileira Conceição Evaristo. Eu sou Leonardo, caboclo de uma cidade do sertão piauiense. Fui morar com 14 anos em Teresina (PI) e por lá me formei em Jornalismo. Me mudei para Aracaju, capital sergipana. Depois de seis anos decidi, junto com meu companheiro, vir morar na Muçuca, em junho de 2020. Aqui eu primeiro encontrei descanso nos pensamentos, acolhimento, risada alta, reza, dança, brincadeira, plantio, trabalho, conversa nas calçadas, micos, bananeiras, vida em comunidade, história e mistério.
Eu sou Isabela, preta, nascida e criada aqui na Muçuca. graduada em Licenciatura Plena em Educação do Campo, bolsista, pesquisadora pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Atualmente trabalho em casa, nos cuidados da família, da casa e do quintal, junto com minhas irmãs, Isailde e Irailde.
“Não é tão fácil assim, publicar uma reportagem dessa natureza, diante das situações que a gente vive.” Foi o que Isabela disse quando apresentei a ela o rascunho da pré-apuração. Trago essa declaração, porque escolhemos percorrer um caminho que não nos ponha em risco. Esse é um cuidado em nossa abordagem, que vem de questões históricas, políticas, sociais e econômicas. “Em todo quilombo morreu alguém judiado. Não tem nenhum quilombo em que o sangue não corresse” , afirma dona Sebastiana, do Quilombo Carrapatos da Tabatinga, Bom Despacho (MG), no documentário “Dandaras: a força da mulher quilombola”.
O caminho da liberdade é doloroso e sofrido. Mas o que nós queremos aqui é lembrar, sem sofrer com as amarguras do passado. É expressar a verdade do corpo que fala por si, o corpo terra e humano. É enxergar no presente um futuro próspero, onde reine a alegria e o amor. O que nós queremos é encontrar os caminhos da redenção, depois de tantos anos de guerra, escravidão, violência, abusos e discriminações. É fortalecer a cultura como um todo, as memórias, a dança, o canto, a roça, as medicinas naturais, o pescado da maré, as rezas e toda sabedoria ancestral que vive e sobrevive no fazer do dia a dia, passado de mãe e pai, para filhas e filhos.
A Muçuca é um quilombo
A Muçuca ocupa um espaço geográfico formado por morros de alto e baixo relevo, no bioma Mata Atlântica, no encontro do Rio Cotinguiba com o Rio Sergipe, antes deste desembocar no mar. Um lugar histórico, que possivelmente já foi território do povo Tupinambá, segundo relatório “Arqueológico e Antropológico do Território Quilombola do Povoado Mussuca em Laranjeiras”, realizado por pesquisadores do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em 2012.
Fazemos uso do “ç”, pois faz referência às origens indígenas do nome Muçuca, conforme especula Isabela e outros dentro e fora do quilombo. Oficialmente se escreve com ‘ss’. A formação desse povo/território remonta ao início da atividade açucareira em Sergipe, fim do século XVIII, quando intensifica a presença de negros escravizados na região. Aproximadamente dois séculos depois que a coroa portuguesa massacrou a resistência do povo Tupinambá, liderada pelo cacique Serigy.
Um pedaço de África no Brasil, perceptível nos modos de viver e ser das pessoas daqui, a Muçuca é o maior quilombo do Estado, com mais de 4 mil habitantes, distante da capital Aracaju 19km, localizada no município de Laranjeiras, leste sergipano. Terra de Maria Benquela, que recebeu esse pedaço de chão como pagamento por ter feito o parto do filho do dono do engenho, segundo o conto de origem apresentado no depoimento de seu Laurindo, no relatório antropológico. Aqui foram chegando outras famílias de alforriados, refugiados e descendentes de africanos que foram escravizados e assim a comunidade foi se formando.

Cultura ancestral transmitida através das gerações | Foto: Leonardo Maia
Hoje certificado como quilombola, o povo muçuquense ainda luta pela titulação para o reconhecimento formal do Estado, conforme garante a Constituição Brasileira de 1988, no Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias: “aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes títulos respectivos”.
“É por isso que não vai nada aqui pra frente não. Esse povoado traz o nome de quilombola”, afirma Ilza, moradora da Muçuca, marisqueira, compositora, cantora e tocadora de tambor do Grupo Samba de Pareia. “Eles não quer descobrir a origem”, fala baixinho. “É porque as fazendas já começam daqui. Aqui todo é circulado, por lá, da ponte de lá do Macaco, é tudo fazenda. Eles tão com medo de perder essas terras. Se você for pro Cedro (localidade dentro do território) é a mesma coisa.
Ruínas de antigos engenhos habitam velhas fazendas no entorno da Muçuca. Vastas plantações de capim, para criação de gado, e cana-de-açúcar, ainda cercam o território. São marcas do início da atividade econômica implantada pelo colonizador europeu, com base na escravidão de corpos e na exaustão da terra.
As casas dos moradores da Muçuca sobem e descem os morros, uma colada na outra. Antes não era assim. Uns 60 anos atrás eram menos casas, que ficavam separadas como sítios. Foram se juntando com a chegada da energia elétrica e o crescimento da população. Hoje, na frente de casa, tem as ruas calçadas, fios, postes e outras moradias. A comunidade possui três escolas municipais, transporte urbano, farmácia, quadra de esportes, dois postos de saúde, campo de futebol, vários estabelecimentos comerciais, igrejas, academia, cemitério, associação de moradores, pescadores e agricultores. Também há uma diversidade de religiões, fruto do sincretismo religioso, como a católica, evangélica e de matriz africana.
Muitas casas ainda preservam quintais nos fundos, que se emendam uns nos outros, onde é possível encontrar retalhos de Mata Atlântica e pequenas roças que enverdecem a paisagem. Coqueiros, bananeiras, jenipapeiros, jaqueiras, cajaranas, mulungus, goiabeiras, mangueiras e outros tantos tipos de árvores e plantas, principalmente as frutíferas e medicinais, se misturam com plantações de milho, macaxeira, amendoim, feijão, abóbora.
Do topo do morro se avista a diferença na paisagem, onde estão concentradas as casas da Muçuca e as árvores. Uma ilha, cercada de cana, capim e dois rios. Micos, saruês, guaxinins, pássaros, lagartos e cobras circulam por aqui, mesmo que a presença predominante de humanos, cachorros e gatos seja uma ameaça para essas espécies.

Vista das árvores concentradas próximas às casas e o descampado logo adiante | Foto: Leonardo Maia
Os males que maltratam os joelhos, coluna e a saúde de jovens senhoras são cicatrizes deixadas do tempo em que elas carregavam lenha para o forno das caieiras, extraíam pedras e trabalhavam nas plantações de capim e cana. “Carreguei muita pedra na cabeça”, reclama Valdice, sentada na calçada, enquanto alisa o joelho com a mão. “Também já quebrei brita. Trabalho duro, sofrido. Por isso eu to assim hoje”. Na pedreira da Muçuca ficaram as marcas das explosões e dos parentes que perderam a vida.

Valdice sentada na calçada com sua bengala | Foto: Leonardo Maia
Apesar das dificuldades, aqui é próspero e abundante. Mesmo nos períodos mais desafiadores, a terra e o mangue nunca deixaram faltar o alimento. “Forrava a casa todinha de feijão, amarrava os móio. Enquanto pudesse pendurar, pendurava”, recorda Luzia, 74, roceira, marisqueira e sambadeira do grupo Samba de Pareia. “E o milho encangava, descascava as espigas maior, amarrava, quando acabar pendurava. Ali ia cozinhando e relando no ralo pra fazer cuscuz. Fruta tinha demais. Manga toda vida teve. Jenipapo? Nego comia jenipapo com farinha. Dicuri. Enchia o cesto de dicuri. Eu fazia fubá de dicuri, fubá de milho, pra tomar café de noite. Quando a chuva não deixava ir pra maré, ou botava a cara no mundo chovendo ou então ficava com fome”.
O sustento da maré

Esperando a maré do rio Cotinguiba baixar para catar massunim | Foto: Leonardo Maia
No mangue dos rios de água salgada, a comunidade faz da pesca um meio de vida. O pescado da maré garante o alimento na mesa e ainda complementa a renda de algumas famílias. “Tirava da maré sururu, pegava muito milongo, muita mucutuca, miroró, camuru. Pegava muito essas coisas, ia vender em Aracaju. Pegava aratu, siri, caranguejo, massunim, ostra. O mussum eu nunca peguei ele não, tinha um medo danado. Mas ele gosta mais de água doce”, conta dona Bela, 76.
Cada qual pesca o que consegue carregar na cabeça. Assim fazem as marisqueiras, que atravessam um caminho longo por dentro do capinzal, passam por cercas elétricas e por vezes correm assustadas com os bois dos fazendeiros, no caminho de ida e volta da maré.

Mulheres retornando da maré com o pescado na cabeça | Foto: Leonardo Maia
“O mangue era tão bom”, Luzia recorda com saudade. “Tinha muita coisa. Se trabalhasse a semana todinha num dava vencimento. As muié ia vender cada enfieira de milongo. Ostra, a gente só tirava a escolhida. Tirava ostra e pegava marisco pra comer. Mamãe levava a gente pra maré. Enquanto ela tirava ostra, a gente num instante enchia um cofo de milongo. Pegava no bucaco o siri. Agora tem mais não. Agora presta não. Porque hoje em dia tão plantando cana até na beira da maré. Eles tão plantando cana até na beira da maré”, exclama.
“Antes num existia isso. O mangue mudou muito. Tá tudo cheio de lama. Quem vai pro recanto da pedreira, tá todo aterrado que as meninas disse, num tem mais riacho. Só tem riacho pra cima, pra baixo num tem riacho, a lama tomou conta. Sei não meu Deus, tá difícil as coisas. A gente olhava assim, tava branco de caranguejo. Agora você não vê um. A gente ia, enchia o cofo de caranguejo num instante. E agora a senhora num vê um caranguejo no mangue”.

Luzia em seu quintal. Ao fundo um cofo de cipó | Foto: Leonardo Maia
Ilza levanta a mesma questão. “Sabe o que foi?”, cochicha. “O trator dos empresários, fazendeiros. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, cortando tudo e o gaiamum não tem onde morar. O caxixe quando vem, ele não tem tamanho. Mas só enxergam eu e você que bota tingui (espécie de planta usada na pesca). A gente não pega os peixinhos pequenos tudo não, minha gente. O que tá matando ali não é eu, você, consumidor. O que tá matando ali é as droga que vem das empresas. Mesmo aquele chorinho que não dá pra desconfiar, mas vem. Ali, Laranjeiras, tem empresa. Você desce pra baixo, mais um pouquinho tem empresa e aí vai. Tá tudo circulado. Sergipe, Brasil, tá tudo circulado de empresa e aquele chororozinho (esgoto industrial) dele vai tudo pra o mar. Só vai pra o mar. Aí vai dizer que é a gente. Você vai com uma trouxinha de tingui assim, ói. Como é que eu posso matar tudo, não posso. Agora quando o caxixe desce de lá da empresa pra baixo, ele vem destruindo tudo. É siri, caranguejo, camarão, peixe grande, pequeno. Você sabe o que é esse negócio, que chama caxixe no rio? É um caldo de cana azedo que solta lá e desce. Essa fábrica de cimento também não deve soltar qualquer pouquinho. A de Pedra Branca não deve soltar qualquer coisa. Porque só solta pra o rio. Tem aquela fábrica de cimento branca, ela pode ter chorinho também pra o mar. E o mar hoje não tem nada. Se você não tiver empregado, também você não tá de barriga cheia. Tá com fome, porque na maré não pega nada. Acabou!”.
Terra explorada.
Invadem, expulsam e ameaçam
As mudanças climáticas têm ocorrido de forma intensa. Podem ser sentidas e estão alterando nosso cotidiano na Muçuca. Envolve uma série de elementos, como as matas ciliares, os nossos manguezais, os rios, a fauna, a flora, as águas que são usadas no consumo humano, a vegetação, o ar e tudo aquilo que está inserido no território.
Esses elementos encontram-se ameaçados por diversos fatores, principalmente externos, que não têm relação de vida com o lugar. É o caso das grandes propriedades privadas que desenvolvem atividades de monocultura e agropecuária que possivelmente fazem uso de agrotóxicos para sustentar suas lavouras. O solo de massapé do nosso território, por se tratar de um solo muito fértil, atrai grandes latifundiários, desde o processo do Brasil colônia, antes do século XIX.
A poluição industrial também é fator responsável pela maior parte desses reagentes poluentes, como a queima de combustíveis fósseis, a emissão de gases, mercúrio, poeiras e outros poluentes lançados diretamente nos rios, que ocasionam a mortandade de peixes, mariscos e crustáceos.
“Naquela época não tinha essas coisas. Fábrica, era muito difícil ter”, afirma dona Nadir, 74, marisqueira e cantora dos grupos Samba de Pareia e São Gonçalo. “Não tinha essas fábricas que produz esse veneno. Aquela borra, daquele veneno vai tudo pra onde? Vai tudo pra o rio. A única coisa que atingia o rio daqui era o caxixe. Quando era o tempo pra cortar cana, eles lavava o lugar que fazia o açúcar e aquela água escorria em um cano que só corria pra o rio. Aí aquela borra, muitos peixes morria, aqueles que não morria ficava lá meio torto”.

Nadir cata ostra na maré do Rio Cotinguiba | Foto: Alexandra Dumas
Nas proximidades do quilombo é possível encontrar algumas empresas e um gasoduto que atravessa o território da Muçuca. Tudo isso traz riscos à vida e pode poluir toda a cadeia alimentar, aumentar o risco de proliferação de doenças. Esses impactos afetam diretamente a alimentação e a vida da população, visto que a maior riqueza da economia local ainda é a maré. Independentemente de da área de trabalho, um pai ou uma mãe de família que se desligar de uma empresa ou órgão público, não terá outra alternativa de sustentabilidade que não seja a pesca e a agricultura.

Vista do povoado Pedra Branca a partir da roça de dona Lindinalva | Foto: Leonardo Maia
“A maré é muito importante”, declara Luzia. Porque muita gente vive da maré. Né todo mundo que trabaia fora. Que nem esses meninos que pega caranguejo, né? Só veve da maré. Agora porque as muié deixou. Mas tem muié que trabalha direto na maré pra sobreviver. Se num trabalhasse na maré num tinha nada. Perante essa luz, que eu num tô mentindo, eu ia pra maré até dia de domingo. Muitas vezes saí de casa sozinha e Deus pra maré, porque não tinha nada. Tinha dia que não tinha nada pra comer mesmo”.
“No movimento de resistência, exige-se continuamente o enfrentamento contra projetos de destituição da identidade quilombola”, afirma José Augusto Meneses Santos, em sua dissertação de mestrado “A luta do povo quilombola, Mussuca: organização política e resistência em Sergipe”. Como exemplo, ele cita a proposta de instalação de exploração de calcário para uma indústria de cimentos, sob o discurso de geração de empregos e sustentabilidade, que foi negada e contraposta pela maioria da população muçuquense.
Água: ‘trazia no pote, na cabeça’
No decorrer da apuração desta reportagem, identificamos uma necessidade com caráter de urgência, referente à água potável. Hoje, a população da Muçuca não tem acesso a uma fonte de água tratada. Algumas décadas atrás, a comunidade abastecia o purrão (pote grande de barro) das casas com águas de fontes naturais que traziam na cabeça.
Luzia conta sobre esse tempo: “todo mundo sabe que a gente pegava água era em minador, num era? Era. Quando ficava no tempo da seca, a gente tinha que procurar água. Tinha as fonte assim, aí abria aquele minador, abria aquele buraco, aí a água minava e a gente pegava a água minada. Abria com uma enxada, uma pá. Abria o buraco na fonte e o minador jorrava. Não, tinha sal não, era doce. Naquele tempo era cuia. O povo chamava cabaça, né? A gente abria a cabaça e fazia uma cuia. Aí levava pra panhar bem devagazim, que era pra num sujar a água, pra não abusar. Demorava, meu fio, pra encher uma vazia. Demorava era mutho. No meu tempo eu saía daqui lá pra fonte do buraco. Muitas vezes saía mais minha cunhada meia-noite. A gente já saía com umas duas vazia, porque lá enchia uma, trazia e deixava a outra lá na fila pra encher. Era tudo de fila pra encher a vazia. A dificuldade era muita”.
A comunidade tinha a preocupação de zelar e preservar essas fontes, até ser beneficiada com o projeto Chapéu de Couro, na década de 1980, no governo de João Alves Filho, que implantou um chafariz no quilombo, onde formavam filas gigantescas para que a população pudesse ter acesso a água. Agora ela é encanada para as casas. Apesar do alto nível de salinidade, por se tratar de uma água cristalina e de fácil acesso, aos poucos os moradores da Muçuca foram abandonando as fontes naturais.
Com o crescimento da população, as fontes foram perdendo espaço, dando lugar a novas construções de moradias, outras foram abandonadas pela proximidade com as fossas das casas e outras desapareceram por causa do desmatamento ou foram aterradas.
“O pessoal cavava três metros e já dava água. De qualidade, doce mesmo, minada. Fazia mutirão pra fazer a limpeza da fonte. Cada área tinha preocupação de manter suas fontes. Tinha fonte de água minada que você olhava e via a areia embaixo. Tinha pé de bambu, que a gente chama de taquara, que mantinha aquela fonte ali. Depois que cortaram os pés de bambu, começou a secar. Com o desmatamento começou a ficar escasso. Foi o desmatamento que fez isso. Passou a não ter mais essa água. Tem em alguns lugares, mas o pessoal não dá tanta importância, porque tem essa facilidade da água do Rio São Francisco. Essa que nós temos aqui dos poços do projeto de João Alves é muito salobra, até pra lavar roupa o pessoal reclama. Foi bom pra gente porque antes era mais difícil. Hoje o pessoal tem as águas encanadas em casa, das águas com salito”, relata José Augusto, 57, muçuquense, professor de Língua Portuguesa.
Muito do que foi perdido ainda é possível recuperar. A Terra é como um corpo altamente regenerativo. Por meio do reflorestamento é possível recuperar nascentes, fontes naturais, proteger aquíferos e rios. Seu Zinho, 73, morador da Muçuca, carpinteiro aposentado, fala sobre uma experiência que ele observou. “A preservação das árvores é muito importante para as fontes. Se tirar as árvores, ela seca. Tinha um tanque em uma fazenda que era cercado de árvores. Jorrava de inverno a verão. O dono mandou passar o trator e mandou arrancar todas as árvores que tinha ao redor do tanque. Ficou tudo limpo como isso aqui”, aponta para o chão da sala. “O tanque secou! Não sei se alguém falou com o dono pra plantar as árvores novamente ao redor do tanque, porque plantaram as árvores novamente. Hoje o tanque está cheio, as árvores é quem faz ele minar.”
Outra fonte de abastecimento que a população da Muçuca usufrui atualmente é de um suspiro do Rio São Francisco dentro do seu território, com destino ao abastecimento da Grande Aracaju. A comunidade faz uso para beber e cozinhar, além de outros afazeres.

Suspiro com água do Rio São Francisco | Foto: Leonardo Maia
Gregório Guirado Faccioli, professor de engenharia agrícola da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Programa de mestrado e doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente (Prodema), menciona que as duas redes de distribuição de água em nossa comunidade são impróprias para o consumo humano. A água do aquífero encontrado na região de Laranjeiras, em análise feita nas proximidades do quilombo, foi identificada a presença de reagentes poluentes do tipo: óleo e petróleo, oriundo dos postos de gasolina da região. Portanto, há possibilidade desses contaminantes serem encontrados na água salobra do chafariz.
Quanto à água do Rio São Francisco, Gregório cita a presença de cianobactérias, em análise feita em outra região de Sergipe, onde existe caso comprovado de morte pelo uso sem tratamento. Ele afirma que essa água possui um índice bacteriano muito elevado. Isso pode causar a morte de pessoas ou deixar vários tipos de sequelas.
Por isso é necessário que a Mussuca passe a ser beneficiada por um fornecimento de água potável tratada e de qualidade, sem que haja taxa de cobrança por parte da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). A água na comunidade sempre foi um bem comum e a população não aceita pagar por ela.
Ilza comenta um episódio em que a Deso tentou estabelecer a cobrança. “Não sei mais que ano foi. Veio a turma do Deso, passar por aqui. Passou a máquina, cavou as valetas tudo bem funda, encanaram água ainda pra muitas casas e nunca chegou essa água aqui. Que era pra pagar, aí todo mundo disse que num ia pagar. Aí ficou aí, depois tamparam o buraco com tudo. Quando fez o conjunto aí (de casas) tinha uma porção de caixinha lá pregado, que era pra ser a caixinha da água. Eu num sei de que era aquelas caixinhas. Do registro, nera não? Aí acabou tudo”.
Gregório, que tem experiência no estudo e desenvolvimento de projetos relacionados aos recursos hídricos, afirma que é possível o poder público resolver essa questão da água na Muçuca por meio de uma gestão descentralizada, administrada pela própria comunidade, como já acontece, para recuperação das fontes, dessalinização da água e saneamento ecológico, de baixo custo e alta eficiência.
Quilombo, terra de socialização

Vizinhas juntas na calçada para debulhar feijão | Foto: Leonardo Maia
“Teve um ano que eu plantei uma ruma de mandioca aí embaixo. Cada macaxeira! Foi uma farinha boa, viu? Tempo bom, quando chegava da roça, o pessoal com os caçuá de mandioca, jogava ali debaixo da árvore. Todo mundo se ajuntava pra rapar, numa roda. Era uma coisa! Ooô meu Deus do Céu, que lugar bom, que coisa mais boa. Nera não cumade? Ave Maria…. Eu fico doente com a gente comprando farinha. Nunca comprou farinha. A gente tirava tapioca, fazia aquela ruma de beju. Aí levava coco, né cumade? Tanto fazia pra comer, como distribuía. Se eu tivesse precisando, eu não ia comprar, eu ia lhe dar. A mãe dizia assim. Vá fulano, na casa de fulano, diga a fulano que mande uma cuia de farinha. Naquele tempo era cuia. Tinha aquela cuiona, aquelas cuiona grande cheia de farinha. Ninguém pagava não. Era tudo unido o povo pra trás. Precisou dum açúcar, café, esses negocio, todo mundo dava”.
Apesar de ainda existir essa prática na comunidade, Luzia fala com nostalgia, porque muitas casas de farinha fecharam com a diminuição da atividade roceira. A maioria dos grandes roceiros da Muçuca já morreram, e as novas gerações não deram continuidade à cultura da roça como era antes. Dona Lindinalva, 84, é exemplo da força da mulher no campo. Com essa idade ainda pega na enxada, planta macaxeira, feijão de corda, amendoim para o sustento da família e comercialização. Mantém uma casa de farinha em seu quintal, onde faz beiju de coco, massa de puba e outros produtos derivados da massa de tapioca.

Dona Lindinalva no preparo da terra para plantio | Foto: Leonardo Maia
Apesar da pouca terra disponível, a população ainda planta vários tipos de legumes e hortaliças que vai de feijão, a mandioca, macaxeira, amendoim, milho, quiabo, abóbora, batata doce, hortaliças, inhame, entre outros, em pequenos terrenos de herança e quintais. Esses alimentos são muito consumidos pelos moradores. Poucos comercializam para fora. É importante frisar que a maior parte desses alimentos não possui agrotóxicos, nem adubação química e sim o adubo orgânico.
‘A terra tá presa’
Na realidade, temos uma vasta extensão de terra. Mas a maior parte dessa terra é ocupada por fazendeiros que não vivem aqui. Isso impossibilita o desenvolvimento da agricultura e da economia local e uma dependência da população de insumos externos.
Augusto conta que as terras antes eram doadas pelos fazendeiros, que determinavam a cada um o limite de plantar sua roça. “Eles também tinham o tempo pra plantar e pra colher. A partir de uma determinada época já tinha que retirar, porque ali servia pra outra coisa. Tinha essa vantagem, que eles não precisavam pagar o trabalhador pra fazer esse serviço, de fazer o terreno deles. O roceiro plantava roça até um certo tempo. Eles (os fazendeiros) plantavam não só o coqueiro, como capim também. Eles não respeitavam. Não esperavam. Se não desse pra pegar naquele tempo, também perdia aquele trabalho. Eu tava falando com meu pai como é que conseguiram ficar com as piores terras, sabe? As piores terras ficaram com a gente, porque nos arredores do povoado, há terrenos dos fazendeiros com minas, com pedreiras e riquezas do solo, solo fértil, de massapê. Aqui a gente não tem um solo de massapê. A gente vê esse terreno todo aí, é alto, acidentado, se o tempo não for bom de chuva, bem certinho, não dá nada. Se for explorar um terreno desse aí… pra construir tem o maior sacrifício, a pedra que tem…”.
“Como é que pode?”, Ilza desabafa. “A gente aqui na Mussuca não tem terra não. As terra é esses pedacinho de fundo de quintal, ói. Eles tomaram a terra toda. Não querem dar a liberdade como aqui é quilombola. Por que? Porque a terra tá presa. Tá vendo? A terra tá presa. Se você sair pra dá uma caminhada por aí, você vai vê terra é pra lá, né? Na Mussuca, não. Aqui não tem nada não. Deixou o povo sem nada. E agora pra conseguir? Esse homem tem tanta terra, que tem hora que eu digo, meu Deus! Jesus não deixou tanta terra assim só pra um ser humano. Se fosse criar o mundo pra cada um levar num sei quantas tarefas, não tinha condições”.

Dona Ilza em apresentação do samba na visita de um recém-nascido | Foto: Leonardo Maia
A escassez do trabalho
Com a impossibilidade de trabalho dentro do próprio quilombo, as pessoas, por necessidade, buscam trabalho fora. Isso diminui o convívio comunitário e faz aumentar a violência. Porém, aqui ainda é um lugar seguro, onde as pessoas podem andar tranquilas na rua a qualquer hora, sentar na calçada e criar as crianças com liberdade. É seguro porque tem união. “Aqui todo mundo é família”. É assim que o povo da Muçuca se reconhece. Na hora da precisão, se alguém tiver com alguma dificuldade, a comunidade se move, faz mutirões e arrecadações para ajudar.
O esquecimento ou distanciamento da cultura quilombola também causa desequilíbrio no ecossistema e gera a escassez. Os quintais, os retalhos de mata, os rios, as manifestações populares, os saberes medicinais e todos os seres que aqui habitam estão ameaçados devido ao êxodo orientado pelo capital e as sequelas do colonialismo escravista, que se expressam até hoje nos sistemas de exploração / esgotamento da natureza e do trabalho, que deixa cicatrizes profundas.
“A gente não tinha conhecimento do mundo da luxura (luxo)”, afirma Damião, filho da Muçuca, professor de Matemática. “A vida da gente era essa, chupar cana, pegar um coco da fazenda, vender adicuri, vender jenipapo. A gente não conhecia o outro mundo da luxura, dos carrões, de casarões, de roupas de marca. A gente não sabia do outro mundo, entendeu? Era roça, com agricultura de subsistência e as mulheres se viravam na maré. A base econômica da gente era essa antigamente. Era o saveiro (embarcação para o transporte de mercadorias), enfornava caieira, cortava lenha… Pintava o sete. Com o tempo, começou ir pras firmas, pras pedreiras daqui. Muitos viajaram pro Rio de Janeiro, pra Bahia. Na ponte Rio-Niterói, teve muita gente da Muçuca que trabalhou e ficou por lá”.
Além de acumular doenças laborais, alguns idosos, adultos e jovens que trabalhavam fora da Muçuca nas indústrias locais e em serviços diversos, em Laranjeiras e Aracaju, hoje estão em casa desempregados, principalmente depois da pandemia. Com ausência da prática de cultivo, pesca e vivência na comunidade, ou por incapacidade física, muitos não desfrutam das potências que seu território tem e oferece.
Cura por meio da fé e das plantas
Ainda se tratando da questão do plantio na Muçuca, é notável perceber a importância do cultivo de ervas medicinais, riqueza que a mãe natureza se encarregou de nos presentear. Em um quintal bem conservado, é possível encontrar verdadeiras farmácias vivas. Essa forte tradição se resume a conhecimentos e saberes acumulados da nossa ancestralidade, os quais não foram esquecidos e sim passados de geração em geração. Exemplos de vida que nos mantém cada vez mais fortalecidos e nos permitiu atravessar a pandemia da Covid-19 com poucos casos graves e nenhuma morte.

Cultivo de ervas medicinais e outras plantas no quinta l Foto: Leonardo Maia
As ervas do tipo folhas de alevante, cidreira, pitanga, manjericão, capim santo e alfavaca são muito usadas para banhos e chás. Principalmente quando as pessoas estão gripadas. Servem como anti-inflamatório e relaxante. São usadas para fazer xarope com a ajuda de outras árvores frutíferas, como as flores da laranjeira e do mamoeiro macho, o coração da bananeira, folhas de acerola, limão, alho, cebola vermelha, hortelã, beterraba, casca do curiri, mel natural ou açúcar. “Sabe o que é curiri?”, Dona Bela pergunta e responde: “Curiri é uma sementinha”. Além dessas, temos aroeira, sambacaitá, malva branca e o entrecasco do cajueiro vermelho, que servem para cicatrização e para tratar infecções, como o banho de asseio.
Não podemos esquecer das nossas curandeiras e benzedeiras. As pessoas acreditam no poder de cura por meio da fé. Algumas já nascem com esses dons e outras adquirem por meio do conhecimento das rezadeiras e rezadores mais velhas(os). Dentro da reza não há distinção de gênero na nossa comunidade, rezam mulheres, homens e LGBTQIA +.
Rezam pessoas com dor de cabeça (sol e sereno), olhado, cobreiro (Herpes Zoster), vermelha ou desimpele (erisipela), desmentidura (contusão), engasgo, cólica em crianças recém-nascidas etc. Durante esses procedimentos, as rezadeiras e rezadores usam o poder das mãos, das palavras e das ervas do tipo vassourinhas, folha de pinhão roxo e folhas de arruda. Objetos também são utilizados, a depender do tipo da reza, a exemplo da faca, prego, pedaço de pau, turrão (pedaço de barro). As pessoas daqui também fazem uso da casa de Maria Barreira, uma espécie de casa de marimbondo, que por sinal é muito usada no rosto para combater a caxumba, doença conhecida na comunidade como papeira.
Arena da cultura popular
A comunidade quilombola Muçuca também tem a felicidade e o orgulho de guardar e preservar um patrimônio cultural ancestral, material e imaterial, que são as danças, os cantos que trazem nos seus gingados as lutas, costumes e trajetórias de um povo oriundo da diáspora africana presentes no nordeste brasileiro. Um exemplo é a dança de São Gonçalo, que tem sua origem no quilombo relacionado ao pagamento de promessas. É caracterizado por homens, com vestes e adereços femininos, e uma mulher, que conduz o santo.

Apresentação do São Gonçalo na comunidade | Foto: Leonardo Maia
“Um dia mesmo eu prometi”, Luzia conta. “Meu marido teve um corte na perna, na batata da perna. Ele não tinha resguardo, porque trabalhava no cemitério. A pereba começou a crescer. Aí eu cheguei, me ajoelhei, pedi a São Gonçalo. Se ele me ajudasse, se ele me desse essa graça de que meu marido ficasse bom, eu fazia uma dança pra ele. Foi quando São Gonçalo deu a graça, que a perna dele ficou sarada. Aí eu paguei minha promessa. Dei o ensaio geral de manhã, dei a comida ao povo, depois saiu a procissão de tarde, pra lá por cima”.
“Adeus parente que eu já vou embora / Eu já vou embora, eu vou agora / Pra terra de Congo, vou vê Angola.” Os integrantes do grupo costumam cantar e dançar essa música quando perdem um ente querido. Uma lembrança de ter deixado para trás a sua história, o seu povo e seus familiares no continente africano. Tem outra que diz o seguinte: “Arreda do caminho ô sinhá/ Deixe peixinho passar ô Iaiá”.
Temos também a dança do samba de coco, o reisado e o samba de pareia. Essa última dança faz referência ao nascimento de uma criança, que, aos 15 dias de nascida, é homenageada com uma festa e envolve todas as pessoas da comunidade que quiserem se achegar. Por meio do samba e da meladinha (bebida de cachaça, cebola, mel e arruda), as brincantes e as pessoas sambam, cantam e bebem aos sons de alguns instrumentos tipo porca, ganzá e tambor.
O samba é muito antigo. Remonta ao tempo da escravidão. “Os escravos trabalhava, era homem e mulher. E pra livrar o sofrimento, eles fazia uma roda no momento que ia comer, né, e descansar… eles formava uma roda e começava a sambar”, afirma Eugênia, em depoimento extraído da dissertação de mestrado “Samba de pareia pelos saberes do corpo que samba”, de Jonathan Rodrigues.

Brincadeira do samba na visita a uma criança | Foto: Leonardo Maia
A maioria dos cantos é de autoria das brincantes. Alguns são improvisados na hora, outros são encontrados em outras expressões Sergipe a fora. Todos caem no samba independentemente da idade, identidade de gênero ou religião, sem hora para acabar. Nos cantos e versos, as sambadeiras louvam a cultura quilombola. “A Mussuca é um Quilombo/ Eu nasci e me criei aqui/ Oi cadê o samba/ Oi ele ele aqui”. Também cantam a defesa de seu território: “O Brasil é meu/ O Brasil é meu / O Brasil é meu / Alemanha quer tomar eu não dou/ O Brasil é meu…/ Portugal quer tomar eu não dou…”
O canto, que se conecta com os movimentos do corpo, contam histórias, expressam vários sentimentos como forma de libertação, resolução de conflitos e celebração da vida. “A diversão que tinha era essa, as muié ia sambar, beber cachaça, e pronto acabado. Ia beber, fumar cachimbo e brincar, se tivesse uma visita. Fazia isso. Os home iam também. Era pouca famia, pouca gente e era muito unido esses povo pra trás. Em tempo de São João ia sambar. A gente criança brincava reisado. Brinquei muito reisado lá em cima, na finada Pureza. Diversão da gente era isso”. Assim Luzia descreve.
O despertar para o amanhã
Falar da emergência climática em uma comunidade quilombola, no caso da Muçuca, é falar de vida, da cultura, da identidade, das lutas e resistência. Muitos cientistas modernos já reconhecem na cultura dos povos tradicionais uma alternativa ao desastre do nosso tempo.
A relação com as fontes de água, com as plantas medicinais, com a extração de madeira e palha para construir as casas de antigamente, com o pescado na maré, as roças, o fruto das árvores, o cipó para fazer cestos, caçuá e cofos. A cultura da “biointeração”, ou seja, de saberes e práticas integradas ao todo da natureza, faz surgir um cuidado natural em manter o verde da mata, preservar as águas e a vida dos povos quilombolas, ribeirinhos e indígenas como um todo.

Caçuá antigo feito de cipó | Foto: Leonardo Maia
Perguntei a Dona Bela se ela tinha preocupação em manter as árvores. “Não. O tempo, quando vinha muito seco, aí tinha pé que secava e a gente cortava pra lenha. Quando secava, ela nascia em outro canto e a gente deixava ela crescer”, assim ela respondeu. “Então tinha um cuidado”, insisti. “O cuidado era do mato mesmo. Ninguém bulia, nem arrancava”. E assim ela encerra a conversa.
Damião também faz essa relação da cultura, com a preservação do ecossistema. “Esse desmatamento que aconteceu na Muçuca, eu vou falar pra você, onde tinha um pé de camboatá e tinha um pé de moreira, podia tá em qualquer canto, tinha que dá prioridade, porque ali servia de esteio, principalmente pra cumieira das casas que era de taipa. Já que a casa hoje é de alvenaria, o pessoal não tá necessitando mais de pé de moreira. Se ela tiver pequena e precisar plantar alguma coisa, corta esse pé de moreira, porque não interessa mais”.
Na medida em que a população se afasta dessas práticas e as novas gerações caem no esquecimento, aumentam os desequilíbrios, que se manifestam na forma de doenças, de violência, do desaparecimento das vidas que vivem nos rios e nas matas, assim como na falta de autonomia da comunidade e um tanto de outros problemas ecológicos e sociais. Por isso é tão importante reavivar a memória de saberes ancestrais e construir uma ponte entre jovens e velhas(os), outras comunidades, roceiras(os), agentes culturais, técnicas(os) e pesquisadoras(es), contribuir com a preservação e restauração da biodiversidade, do patrimônio ambiental e cultural do território.
Assim, esperamos trazer com esses relatos, a partir dessas experiências vividas, uma reflexão sobre o nosso modo de vida, no sentido de significá-lo com o despertar de um novo amanhã. É possível superar os desafios históricos, sociais, culturais e ecológicos enfrentados na Muçuca e em nosso planeta por meio do fortalecimento da cultura ancestral, aliada aos saberes científicos modernos.
“Bota o pé no chão, começa a caminhar/ velho vem atrás, eu ando o seu andar/ quando os pés cansarem e as pernas tremer / pode sentar no toco que o repouso é de dever/ Longe lá no céu, tem uma estrela guia / proveita o seu repouso e vê se nela fia”. É com esse ponto de preto velho que encerramos esse escrito. Precisamos desse descanso para fiar nossas vidas nas estrelas.
* Isabela dos Santos e Leonardo Maia elaboraram esta reportagem com bolsa de jornalismo fornecida pelo ClimaInfo com o apoio financeiro do Instrumento de Parceria da União Europeia com o Ministério Federal Alemão para o Meio Ambiente, Conservação da Natureza e Segurança Nuclear (BMU) no contexto da Iniciativa Climática Internacional (IKI). Os conteúdos desta publicação são de inteira responsabilidade dos seus organizadores e não necessariamente refletem a visão dos financiadores.