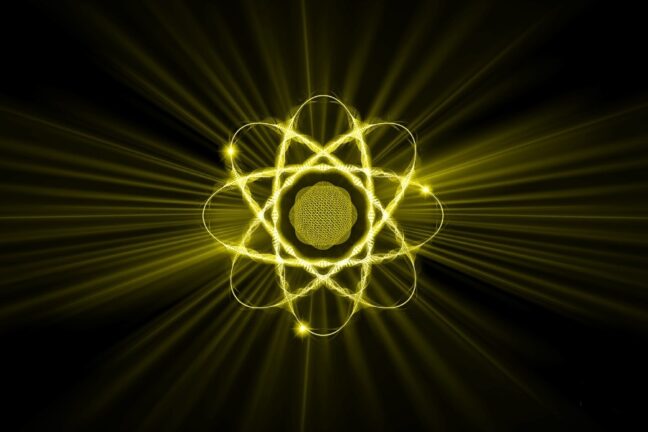O Semiárido brasileiro, território de mais de 1,6 milhão de km² e lar de cerca de 39 milhões de pessoas, deixou de ser território de vulnerabilidades para se tornar um laboratório de políticas públicas e saberes sociais com potencial replicável mundialmente. Essa é a leitura que emerge dos depoimentos reunidos na COP30, quando representantes da sociedade civil, técnicos do governo e parceiros internacionais traçaram um panorama das estratégias que vêm transformando água escassa em segurança hídrica, produção alimentar e redes de cooperação entre territórios semiáridos.
O Painel “Semiáridos do Planeta: Água de Chuva, Convivência com os Biomas e Resiliência Climática. Contribuições dos povos dos Semiáridos do Brasil, Chaco, Corredor Seco e Sahel” foi conduzido pelo representante da Agricultura Familiar na COP30, Paulo Petersen, diretor executivo da AS-PTA.
Da cisterna à agroecologia
O maior sinal tangível dessa mudança é o Programa Cisternas: “o maior programa de captação e reserva de água de agricultores e agricultoras familiares do mundo”, ressalta Lílian Rahal, secretária de segurança alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social com longa atuação em políticas sociais. Hoje, são mais de 1,3 milhão de cisternas instaladas no Semiárido, resultado de décadas de articulação entre Estado e sociedade. Rahal ressalta que aquele território que há 25 anos era sinônimo de fome e pobreza comporta hoje “um território de bem-viver”, fruto da incorporação, pelo Estado, de tecnologias sociais e práticas comunitárias construídas pela Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA).
Antonio Barbosa, coordenador de programas e projetos da ASA, sintetiza a mudança de paradigma: não mais “combater a seca”, mas conviver com ela. A partir da descentralização do acesso à água, primeiro com cisternas de primeira água e depois com sistemas de “segunda água” para produção, as famílias conquistaram autonomia. “Quando olhamos para a experiência do Semiárido brasileiro é isso que conseguimos ver”, disse Barbosa, sublinhando que a convivência se apoia na multiplicação de soluções locais e na troca entre redes comunitárias.
Restauração produtiva
No âmbito federal, o Ministério do Meio Ambiente tem buscado traduzir essas experiências em metas de restauração com recorte produtivo. Alexandre Pires, diretor do Departamento de Combate à Desertificação (DCDE/MMA), afirmou que “a resposta está com as comunidades” e que as políticas precisam reconhecer as especificidades territoriais. Em diálogo com a sociedade civil, o ministério vem estruturando o programa Recaatingar, cuja meta é restaurar 10 milhões de hectares degradados da Caatinga, bioma exclusivamente brasileiro e o mais suscetível à desertificação.
Pires alerta que a restauração deve ser também produtiva: “restaurar assegurando a capacidade de produzir alimentos, restaurar assegurando a capacidade de produzir serviços ecossistêmicos, sobretudo retorno de água para esse ambiente”. Em outras palavras, não se trata apenas de plantar árvores, mas de recompor paisagens capazes de sustentar vidas, culturas e sistemas alimentares locais.
Cooperação Sul–Sul
A experiência brasileira ganha força quando conectada a outras regiões semiáridas. Barbosa lembra que a ASA trabalha, desde 2017, em diálogos com o corredor seco da América Central, com o Chaco sul-americano e outras redes, “cooperação entre povos” que vai além da diplomacia oficial. Para ele, a COP30 é oportunidade de mostrar que financiamento isolado não resolve sem o reconhecimento e o apoio às práticas locais que realmente transformam realidades.
Júlio Worman, analista de Programas na Divisão de Engajamento Global, Parcerias e Mobilização de Recursos do Fundo Internacional do Desenvolvimento Agrícola (Fida), reforça a aposta na cooperação e em arquiteturas financeiras que levem políticas do papel à prática. O projeto Sertão Vivo, financiado pelo Fida, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), é um exemplo de iniciativa multilateral com foco em Agroecologia, sementes crioulas e fortalecimento social. Worman chama a atenção para o caráter duradouro desses projetos: “essa iniciativa tem uma arquitetura financeira diferenciada. Vai ter duração de aproximadamente oito anos e abranger vários estados do Nordeste”.
Agroecologia protagonismo local
O vínculo entre água e produção aparece com clareza: os dispositivos de armazenagem permitiram que famílias ampliassem a produção agroecológica com base em práticas tradicionais e conhecimentos locais. Worman cita iniciativas como o Raízes Agroecológicas, que articula Brasil, Argentina e Bolívia para proteger sementes crioulas e formar produtores; para ele, a Agroecologia é parte central da resiliência no Semiárido.
Pires também destaca que o Semiárido concentra comunidades quilombolas, 54 etnias indígenas e milhões de pequenos estabelecimentos familiares, territórios onde as práticas de manejo têm, comprovadamente, fortes efeitos conservacionistas sobre solo e biodiversidade. Por isso, políticas climáticas eficazes precisam priorizar esses atores.
Financiamento e participação social
Os representantes do governo e de organismos multilaterais concordam que o desafio não é apenas mobilizar recursos, mas fazê-los chegar com metodologias que incluam comunidades no planejamento e execução. Worman sublinha a importância de tirar do papel políticas já desenhadas; Barbosa reforça: “não basta só ter financiamento, precisamos olhar para as experiências”. A governança participativa, com fóruns de agricultores, instâncias de diálogo indígena e mecanismos de co-design, surge como condição para que os investimentos gerem resultados reais.
Evitar a mercantilização do território
Entre os riscos apontados está a visão reducionista do Semiárido como mera fonte de recursos renováveis (vento, sol, carbono). Barbosa alerta para a necessidade de “olhar o território para além da economia verde”: energia renovável deve beneficiar as comunidades locais e não aprofundar injustiças. A proposta defendida por representantes da sociedade civil e do governo é que a transição para renováveis seja acompanhada de arranjos institucionais que devolvam valor às populações que compartilham seus territórios.
Lições do Semiárido
para políticas climáticas

Do conjunto de declarações emerge um roteiro claro: reconhecer e escutar os saberes locais; transformar tecnologias sociais em políticas públicas universais (como ocorreu com as cisternas); alinhar restauração ecológica à produção; articular cooperação Sul–Sul e arquiteturas financeiras de longo prazo; e garantir que investimentos retornem em benefícios sociais e econômicos para as comunidades.
Alexandre Pires resume a ambição: enfrentar desertificação e mudanças climáticas com políticas que recuperem solos, assegurem água e mantenham a vida no território. Para isso, diz ele, é preciso “sinergia entre as convenções do Rio”, clima, biodiversidade e desertificação, e o protagonismo das comunidades como centro das soluções.
Se o Semiárido brasileiro tem hoje uma lição a oferecer é esta: soluções climáticas eficazes nascem da convivência com o lugar, da combinação de ciência e tradição, e de políticas que respeitem os ritmos e os atores locais. Investir nisso não é apenas financiar projetos — é apostar na perenidade da vida em lugares onde a resiliência se constrói, gota a gota, nas casas e nos quintais.
O painel contou também com a apresentação da Plataforma Semiáridos, pela representante da sociedade civil argentina Veronica Luna.
As jornalistas Maristela Crispim e Isabelli Fernandes viajaram a Belém para a cobertura da COP30 com apoio do Instituto Clima e Sociedade (iCS) e estão hospedadas na Casa do Jornalismo Socioambiental, uma iniciativa que reúne profissionais e veículos brasileiros especialistas de todo o País para ampliar abordagens e vozes sobre a Amazônia, clima e meio ambiente.